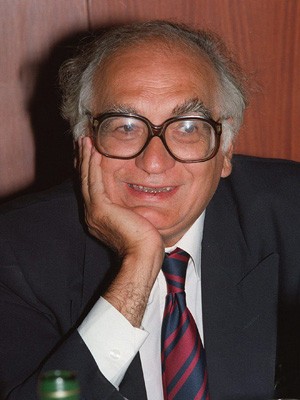Continuamos a ouvir o testemunho de António Alçada Baptista sobre a “Aventura da Moraes”. É fundamental compreendermos que perante a quadratura do círculo que a situação portuguesa apresentava havia a contradição suprema entre as poderosas condicionantes externas e o empenhamento pessoal em prol da liberdade.
«Tive algumas reações do meio em que vivia, surpreendido com a minha atitude, pois julgavam que o meu oposicionismo se ficava pelas conversas de café. Quando o meu nome apareceu entre os do que chamavam “o reviralho”, creio que tomaram consciência de que a minha atitude ia para além das palavras. Para a geração mais nova do que eu, tenho que reconhecer que essa decisão teve alguma importância, embora julgue que as reações possam ter diversas interpretações. No entanto, acho que aquela candidatura foi para os católicos de então uma referência política a considerar. Nas eleições de 1965, não conseguimos arranjar quatro candidatos em Castelo Branco para concorrer ao ato eleitoral. Fizemos então uma declaração muito solene a dizer que, dadas as condições impostas pelo regime, não nos era possível ir às eleições. De 1968 em diante a situação modificou-se: o desgaste do regime era evidente, a guerra colonial tinha alterado de alguma maneira a consciência da sociedade portuguesa e, quando concorri em 1969, ser da oposição era quase uma promoção. “O Tempo e Modo” publicou o seu primeiro número em Janeiro de 1963. Foi resultado da necessidade que nos pareceu evidente de ter um órgão de intervenção que mostrasse o nosso empenhamento em manter diálogo e alianças com a oposição tradicional. A minha amizade com o Mário Soares e o Francisco Salgado Zenha facilitou muito esse entendimento. O Partido Comunista não gostava que o regime confundisse deliberadamente a oposição com o comunismo porque isso lhe permitia manter uma certa tutela sobre o movimento oposicionista, mas Soares e Zenha, pelo contrário, tiveram consciência da importância do diálogo com os católicos pela abertura da frente contra a situação e porque isso iria tirar argumentos à sua propaganda. Os dois ficaram como membros do Conselho Consultivo da revista e tínhamos reuniões regulares para a sua preparação. A revista tinha como subtítulo “Revista de Pensamento e Ação” e, à sua volta, procurámos desenvolver algumas iniciativas. Por isso ela passou a ser também uma referência política na sociedade portuguesa. O primeiro número tinha artigos do Mário Soares, do Jorge Sampaio e meus. A sua leitura deve ser feita hoje tendo presente tudo o que lhe estava subjacente porque era grande o peso da censura. Mário Soares escreveu sobre Oliveira Martins e, no meu artigo, quando queria dizer “instituições democráticas”, tinha que escrever “instituições que pressupõem uma certa dialética”. No entanto, as pessoas entendiam-se por estas cifras e através delas se passava a palavra. As nossas relações com certas áreas da oposição nem sempre foram fáceis. Lembro-me que, mesmo entre os colaboradores, tive grandes reações por ter escrito uma vez “ao arbítrio de Bautista, sucede, em Cuba, o extremismo de Fidel”. A Seara fazia-nos, de vez em quando , os seus ataques e insinuações, para gáudio da imprensa de direita. Apesar de tudo isso, “O Tempo e o Modo” reuniu colaboração de pessoas de várias tendências. Entre as que lembro, posso citar, além de Mário Soares, Francisco Salgado Zenha e Jorge Sampaio, os nomes do padre Abel Varzim, Jaime Gama, José Luís Nunes, Francisco Balsemão, Mário Brochado Coelho, Júlio Castro Caldas, Alfredo Barroso, Manuel de Lucena, Miller Guerra, Vasco Vieira de Almeida, Eduardo Lourenço, Mário Murteira, Raul Rego, Luís Salgado de Matos, Eduardo Prado Coelho, José Pedro Pinto Leite, Francisco Sarsfield Cabral, Vitorino Magalhães Godinho. O João Bénard da Costa e o Vasco Pulido Valente praticamente faziam e coordenavam a revista. Também me parece que “O Tempo e o Modo” teve uma especial importância na área das artes e das letras. É possível dizer-se que estávamos perante uma ditadura política de direita e uma ditadura cultural de esquerda e que certos nomes como os de Jorge de Sena, Vergílio Ferreira, Agustina Bessa Luís, António Ramos Rosa, Sophia de Mello Breyner, Ruy Belo, não estavam valorizados de acordo com o seu talento. A Revista, além de acolher a sua colaboração, soube dar-lhes o relevo que mereciam e criou um espaço cultural onde, na literatura e nas artes, se exprimiam outras tendências e outros modos de pensar.
Entretanto, em 1968, Marcello Caetano assumia o poder. Como eu não acreditava em golpes militares e achava que a oposição era um importante núcleo de testemunho, mas com uma relativa indiferença na sociedade portuguesa, pareceu-me que a liberalização progressiva do regime seria a única via para a instauração da democracia. Dois grandes amigos meus, o José Guilherme de Melo e Castro na Ação Nacional Popular, e o José Pedro Pinto Leite, que entrara na Assembleia com a Ala Liberal, davam-me algumas garantias dessa possibilidade. Mas a verdade é que a guerra colonial radicalizara os conflitos na sociedade portuguesa e as gerações mais novas, que sofriam com maior agudeza o desastre da guerra, muito compreensivelmente não estavam dispostas a contemporizar com soluções reformistas. Foi nessa altura que aceitei escrever um livro, Conversas com Marcello Caetano. Devo dizer que comecei o livro convencido que a liberalização se iria efetuar mas, a meio, tomei consciência que o regime não se liberalizaria. Marcello, quando muito, desejaria gerir a própria liberalização, o que era impossível. Em segundo lugar, ele estava convencido que a força estava sempre da direita. Também reparei que ele não estava muito interessado em fazê-la. Um dia disse-me:” Eu já tenho sessenta e alguns anos. Não estou aqui para fazer revoluções. Estou aqui a ver se equilibro as coisas e nada mais”. Finalmente, o “império” era para ele uma ideia muito forte: “Temos um império que dura há quinhentos anos. Quem quer tomar a responsabilidade de o perder? Eu não”. Foi neste quadro de circunstâncias, e perante o desastre financeiro da Moraes Editores, que resolvi então entregar a revista aos seus redatores que se constituiriam em sociedade para a continuar. Eram de tendência maoista na sua maioria e a revista passou para as suas mãos. Como ponto de encontro de várias correntes e que, de certo modo, tinha contribuído para fazer participar os católicos na construção da democracia portuguesa, deixara de ter sentido».
(…)
Além da iniciativa de “O Tempo e o Modo”, tivemos uma outra que causou muita perturbação na Igreja: a publicação da revista “Concilium”. Creio que foi aí que a Helena Vaz da Silva revelou pela primeira vez a sua capacidade de organizar e dirigir, pois dela se ocupou inteiramente, o que não era pouco: punha a revista todos os meses na rua e, para isso, coordenava as traduções de compactos textos teológicos, reclamava das tipografias que, por sua vez, reclamavam do dinheiro sempre em atraso. O Concílio Vaticano II provocou uma viragem significativa na Igreja e, de certo modo, foi o resultado de um trabalho que há muito vinha sendo feito por teólogos, sobretudo franceses, alemães e holandeses – Chenu, Congar, Schillebeeckx, Küng, Rahner, Metz – que até ali tinham vivido num clima da maior suspeição. A sua importância na renovação do pensamento da Igreja creio que é difícil de entender pelas gerações mais novas mas, fundamentalmente, era a abertura à livre investigação e ao livre diálogo, dentro da Igreja, em duas vertentes igualmente férteis: a da investigação da doutrina e a da chamada a uma outra postura do cristão perante os deveres da solidariedade social. O Vaticano II, em certa medida, consagrou todos esses teólogos «suspeitos» e entendeu-se então que era altura de lançar uma revista internacional que saiu em sete línguas e doze países. A Moraes encarregou-se da edição portuguesa. A revista não pôde sair com a necessária autorização eclesiástica de nenhum bispo português. O imprimatur foi dado por Dom Aloísio Lorscheider, então presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Essa autorização podia ser dada pelo bispo do país da editora. Combinei com Dom Helder Câmara, ao tempo arcebispo do Recife e Olinda, uma sede fantasma na sua casa do Recife para podermos obter a autorização no Brasil. Essa é a razão por que a revista tem indicação de Moraes – Editores – Lisboa – Recife. O primeiro número foi publicado em Janeiro de 1965. A respeito de imprimatur, as nossas relações com a Igreja foram sempre insólitas e, no fundo, o meu único interlocutor mais acessível e inteligente era o Cardeal Cerejeira. Uma vez recebi uma carta do Bispo de Lisboa, D. Manuel dos Santos Rocha, dizendo-me simplesmente que não dava mais imprimatur à Editora Moraes. Isto canonicamente era um erro que nos colocava na situação de não poder publicar o Novo Testamento. Falei com o Patriarca, que procurava resolver estas situações. Esta foi uma das que resolveu. Como veem, além da estrutura global em que estávamos metidos, havia este sem-número de casos que me faziam lembrar a frase de S. Francisco de Sales: «As moscas incomodam não por serem grandes mas por serem muitas». A par da religião, a Helena organizou o grupo dos «Amigos da Concilium», que promoveu colóquios em Lisboa e no Porto, onde vieram, entre outros, teólogos como Hans Küng, Schillebeeckx e Leo Alting von Geusau. A Concilium não chegou a atingir mil assinantes e a Herder, de São Paulo, era chefiada por um alemão que tinha a mania que era esperto . Começou por comprar uma centena de exemplares e, em cada encomenda, pedia redução no preço. Passados três anos, vimos que não era possível manter a revista. Foi assim que a Herder de São Paulo ficou com a edição em português e nós eramos tão bonzinhos ou tão parvinhos que ainda lhe mandámos a lista dos assinantes! Dentre todos esses teólogos que conheci, não esquecerei a personalidade modesta, bondosa e afável do Pe.Chenu, de quem conservei algumas palavras numa carta que me escreveu mas que agora não encontro. De todos esses teólogos foi o que me deu mais a ideia de acreditar em Deus. Os outros, não obstante a simpatia de muitos deles (Hans Küng, por exemplo, prescindiu sempre dos direitos de autor dos seus textos que aqui lhe publicávamos: «não é pela importância – dizia – é pelo gosto de estar ligado àquilo que vocês estão a fazer»), na generalidade davam-me a impressão de serem uns intelectuais «especializados naquela matéria», bastante senhores de si, que não conseguiam esconder o grande prazer de serem as vedetas da teologia moderna, publicitados nos jornais, nas televisões, nas capas das revistas, quando, possivelmente, não esperavam outro destino senão o de serem uns padres obscuros a ensinar seminaristas numa parte escondida do mundo. Nunca mais soube deles, embora o Leo von Geusau, uma espécie de boémio de Deus, tivesse ficado muito meu amigo. Na verdade, o Vaticano II, ao consagrar na prática a sua teologia, tirou-lhe muito da sua notoriedade. Absolutamente por acaso, aí por 1993, tive notícias do Leo. Participava numa reunião do Centro Europeu de Fundações, em Bruxelas. A representar uma fundação holandesa estava um senhor com um ar muito importante, chamado também von Geusau. Num dos intervalos, fui ter com ele e perguntei-lhe se tinha algum parentesco com Leo, teólogo, que eu conhecera há mais de trinta anos e que devia ser da minha idade. Ele fez uma cara muito triste, e como se me falasse de alguém que dera um mau passo na vida, contou-me que o Leo era seu irmão, que tinha ido para a Indonésia, que casara com uma javanesa e que estava à espera de um filho. Enquanto o irmão me falava com um evidente pesar, eu dizia para comigo que o Leo, felizmente, continuava a viver com os olhos para fora do mundo.