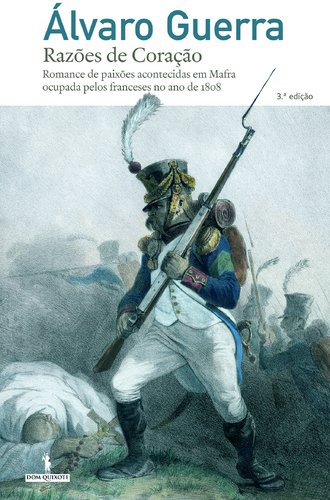AS RAÍZES DA REVOLUÇÃO LIBERAL
Ao celebrarmos os duzentos anos da Revolução de 1820, recordamos o momento fundador da moderna democracia portuguesa. Se é certo que o início desse processo foi pleno de vicissitudes, a verdade é que há uma História que permanece atual, no sentido do aperfeiçoamento de uma cidadania inclusiva e responsável – baseada na soberania dos povos e nos direitos e liberdades fundamentais. As origens merecem uma especial reflexão. Trata-se de um tema bem atual. No enredo, Frei Pedro Taveira empenha-se na resistência, discreta e persistente, ao invasor, os filhos de Beatriz de Almeida, representando a sociedade toda e as suas contradições, dividiram-se entre a guerrilha contra o invasor, o que restava do exército português e o partido de Junot. Entretanto, Mariana e Philipe, ela da pequena nobreza, ele capitão dos dragões do exército de Napoleão, apaixonam-se e têm perspetivas algo diferentes mas complementares, ela ansiando por um Portugal moderno e europeu, ele farto da guerra e dos caminhos perdidos. Falamos, assim, da necessidade de compreender que o combate pela democracia e pela liberdade é uma exigência permanente comportando diversos caminhos. E se falo de um romance é porque ele contém todos os ingredientes que antecipam a Revolução liberal de 1820. Está presente um movimento popular heterogéneo e contraditório, servido por um comum desejo de independência e de soberania. A sociedade antiga resiste, os partidários das novas ideias sentem a contradição entre o carácter de invasores dos franceses e as ideias emancipadoras que a Revolução Francesa semeara.
A MEMÓRIA E A HISTÓRIA
Aqui se ilustra bem como a memória e a História têm de ser distinguidas, sendo genuinamente complementares. Se julgássemos os acontecimentos, à luz do que pensamos hoje e do que sabemos da História, chegaríamos a conclusões quase absurdas. Os diferentes protagonistas têm visões e atitudes diferentes, mas a História resulta da coexistência e da evolução de muitos caminhos, sempre plenos de dúvidas e contradições. De facto, no ambiente de 1808 encontramos o caldo de cultura que culminará em 1820, na revolução do Porto: há a recusa da dominação pelos invasores; há a aceitação transitória da ajuda dos britânicos, para manter a independência; há a tomada de consciência de que urge o primado da lei e que os ideais da Liberdade, Igualdade e Fraternidade da Revolução Francesa têm de ser preservados, apesar dos excessos. As atitudes complementam-se e a História, na sua complexidade, permitirá: a resistência, o desejo de liberdade, a conquista da soberania popular, a importância da separação de poderes, a ligação entre tradição e modernidade. Não por acaso o constitucionalismo ibérico andou a par – com referência essencial à Constituição de Cádis de 1812, “La Pepa”, tão presente na luta comum dos povos peninsulares. O fundo quase republicano de 1812, ou o de Portugal em 1820, deveu-se à ausência dos respetivos Reis. Os tempos tenderiam a ajustar as situações, mas a verdade é que a causa liberal fortaleceu-se pelo reconhecimento do direito dos povos a disporem do seu próprio destino, em nome do equilíbrio de poderes e da soberania popular de Montesquieu, aspetos presentes na pioneira Constituição da Córsega de 1755. A razão histórica nunca está só nem é absoluta. A memória para ser viva não pode ser fechada nem autossuficiente. Alexandre Herculano, que foi crítico da versão republicanizante do texto de 1822, inclinando-se mais para a legitimidade da Carta Constitucional de 1826, tornar-se-ia partidário entusiasta da Constituição de 1838 e do Ato Adicional à Carta de 1852, mercê do compromisso, da descentralização, da participação e da representação dos cidadãos. Afinal, a superioridade ética e política do constitucionalismo deve-se à sua plasticidade e sobretudo ao respeito pelas instituições e pela sua função mediadora, pondo as pessoas e os seus direitos e deveres, em primeiro lugar. A visão prospetiva dos acontecimentos, e não a História como deveria ter sido, obriga-nos a tirar lições do passado, segundo o patriotismo constitucional de que precisamos.
PEDRA DE TOQUE DE REGIME JUSTO
Para usar a expressão de Almeida Garrett, cidadão maduro: a Constituição deveria ser a pedra de toque de um regime justo, promover um governo representativo, e segurar a majestade do Povo, a liberdade da Nação, os direitos do Trono, a santidade da religião, e o império das leis. E a Carta Constitucional completada pelo Ato Adicional de 1852 (como Herculano defendeu) tornar-se-ia, assim, a mais duradoura das nossas Constituições, baseada num consenso cívico e político importante. A vida do constitucionalismo português tem-se feito e continuará a fazer-se, pois, gradualmente. Por isso, Garrett, no início deslumbrado por Rousseau, cartista crítico, aderiria a Montesquieu e a Chateaubriand. Alexandre Herculano, cartista de alma e coração tornar-se-ia paladino da Constituição de 1838, cuja matriz estava na Lei Fundamental de 1822, limada de algumas angulosidades. E não se esqueça como o então moderadíssimo Herculano foi obrigado em 1831 a partir para o exílio, perseguido pelo mais cego dos radicalismos absolutistas. Se a Constituição da República Portuguesa de 1976 resultou de um compromisso complexo mas essencial, que perdura, a verdade é que ele se inseriu na tradição começada em 24 de agosto de 1820, no caminho fecundo do Estado de Direito, da soberania popular, do primado da lei, da legitimidade democrática e dos direitos fundamentais…
Guilherme d’Oliveira Martins
Oiça aqui as minhas sugestões – Ensaio Geral, Rádio Renascença