Quando acompanhamos o mundo contemporâneo apercebemo-nos de que a ignorância histórica tornou-se uma constante. Os líderes políticos ostentam com desfaçatez esse desconhecimento, o que se torna perturbador uma vez que tal se traduz em confusão e na recusa do diálogo, como se a realidade pudesse ser compreendida através de impressões gerais ou de entendimentos fechados. Dois conceitos novos invadem o espaço público, contribuindo para perturbar a evolução das circunstâncias. Falamos de “notícias falsas” ou “fake news” e de pós-verdade. Ambos os entendimentos se completam e contribuem para relativizar o conceito de verdade. Afinal, ao lado do dogmatismo absolutista de alguns, nasce o culto do erro e da ilusão, como resposta entre os diversos entendimentos fechados. Estamos perante faces da mesma moeda, como se a verdade das coisas pudesse ser manipulada ou como se tratasse de matéria de mera opinião. Muitas vezes, as redes sociais repetem informações falsas para justificarem perspetivas unilaterais. Todos os meios servem para justificar os fins. Nos sete pilares da sabedoria, indicados por Edgar Morin, estamos no primeiro dos pontos, por desatenção ao erro e à ilusão. A verdade torna-se precária, o acontecimento deixa de ser fundamento da nossa atitude perante o mundo. Depois da tentação positivista, caímos na desvalorização da verdade, não como realidade metafísica, mas como reconhecimento dos factos e dos fundamentos científicos. Quando se refaz a verdade, pratica-se a mentira, uma vez que deixa de ser a realidade que prevalece. Lembramo-nos das campanhas anti vacinas e dos resultados dramáticos acontecidos com as vítimas, em contraponto com o sucesso na prevenção das doenças, ao contrário do que ocorreu noutros casos sem a inovação das vacinas.
Como diz Jean-Marie Domenach: “o historiador noutro tempo acreditava em fixar a história para sempre; tudo se mexia à sua frente, o que era estável. O que resta hoje em dia de histórico na história é o historiador: o que ele descreve não se move, ou move-se apenas impercetivelmente, mas o historiador tem consciência de pertencer a um tempo e a um lugar, e reconhece que o que dá cor aos vestígios do passado são as ideias e os sentimentos que supõe. De facto, há um paradoxal encontro do abstrato e do concreto: para esses historiadores tudo é questão de conceitos, de formalização, e assim eles trabalham nas espessura da massa, na revelação dos números, no não-dito dos grupos e das instituições… Estamos perante um paradoxal encontro do relativo e do absoluto: mercê de um sentimento agudo da situação temporal e cultural, a ponto de, no limite, uma transformação histórica não poder ser mais que uma mudança dos historiadores, que assim pretendem integrar tudo na sua “tentativa fascinante de fazer a história total”, (Le Roy Ladurie). Assim, a história tornar-se-ia o que não muda, o que anula o progresso, no momento em que a civilização técnica se torna ecuménica? No entanto, a história como uma realidade definitiva é um mito. E o historiador apercebe-se disso à medida que dispõe de meios de investigação cada vez mais sofisticados. E assim paradoxalmente encontramos conclusões contrárias relativamente ao que se pensaria obter através de uma vitória científica. A nova história suscita, deste modo, as mesmas contradições levantadas pelo “noveau romain”. Como sublinha Edgar Morin qualquer observação hoje implica o observador. Isso é verdade para a história como para a física. Quanto mais se acumulam os objetos conhecidos, quanto mais se complicam e se afastam, na aparência, o conhecimento deles desumaniza-se, e o observador toma vez mais consciência do papel que desempenha. A preocupação de negar o sujeito, apercebendo-nos menos das pessoas, em benefício das estruturas pode tornar-se um modo inconsciente de mascarar esse imperialismo. Decompondo a temporalidade da história, acentuando o papel do historiador, tal pode conduzir a todas as manipulações do passado pelo presente. “O essencial é saber fazer a história de que hoje temos necessidade” – diz-se na introdução de “Faire de l’histoire”, espécie de manifesto dos novos historiadores. Mas esta nova forma de escrever a história não se arrisca de nos impedir de fazer (no sentido prático) a nossa história? É verdade que nos liberta do nosso etnocentrismo, descoloniza-nos. Abre-nos à riqueza do mundo. Graças a ela, os povos sem história encontram a sua legitimidade. Mas seria cruel que, concedendo uma história àqueles que não a tinham, retiremos sentido à nossa própria. Meçamos, por isso, a deslocalização e o descentramento. Perdendo a nossa visão de vencedores, tornamo-nos vencidos? Então o historiador trataria dos impérios, para estabelecer o seu. E assim tudo se torna um sinal, quando os sinais deixam significar o que quer que seja. Tudo é humano mas deixa de haver pessoas. Tudo é história mas finalmente nada pode estar num mundo que não estruture nem o progresso dos homens nem a palavra de Deus. “É aqui que a nossa cultura hesita” – diz Jean-Marie Domenach. “Chegada a este ponto sublime onde pela primeira vez abrange a totalidade dos séculos e das civilizações, pergunta-se o que obtém. Uma revalorização da sua própria história (porque ela ao menos tem uma) ou o mal-estar, o ódio de si, a negação nevrótica da sua liberdade”.

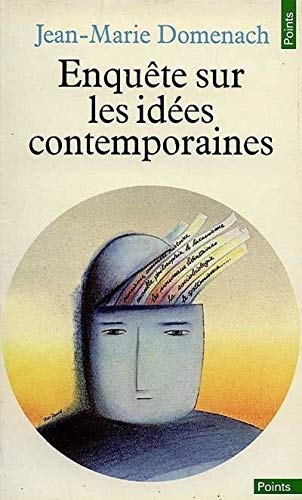



![📢 [𝐍𝐎𝐕𝐎 𝐏𝐎𝐃𝐂𝐀𝐒𝐓]
𝐀𝐧𝐭ó𝐧𝐢𝐨 𝐑𝐮𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐑𝐚𝐦𝐨𝐬 - 𝐎 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨 𝐝𝐚 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚çã𝐨 (𝟏𝟗𝟒𝟓-𝟏𝟗𝟗𝟓), 𝟏𝟗𝟗𝟓
𝐏𝐨𝐫𝐭𝐮𝐠𝐚𝐥: 𝟏𝟗𝟒𝟓 - 𝟏𝟗𝟗𝟓 𝐧𝐚𝐬 𝐀𝐫𝐭𝐞𝐬, 𝐧𝐚𝐬 𝐋𝐞𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐞 𝐧𝐚𝐬 𝐈𝐝𝐞𝐢𝐚𝐬 foi um ciclo de conferências sobre estas cinco décadas da Cultura Portuguesa - e as primeiras da vida do CNC.
As quatro conferências dedicadas ao tema "A imprensa em Portugal" foram coordenadas por 𝐉𝐨𝐚𝐪𝐮𝐢𝐦 𝐕𝐢𝐞𝐢𝐫𝐚, então presidente do Observatório da Imprensa. Publicamos a sua apresentação e a intervenção de 𝐀𝐧𝐭ó𝐧𝐢𝐨 𝐑𝐮𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐑𝐚𝐦𝐨𝐬 realizadas durante a sessão sobre "𝐎 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨 𝐝𝐚 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚çã𝐨 (𝟏𝟗𝟒𝟓-𝟏𝟗𝟗𝟓)", a 24 de outubro de 1995.
Para ouvir, clique no link para Podcasts, na bio @centronacionalcultura
🎧 Audio-histórias do Centro Nacional de Cultura
#CNC #CentroNacionaldeCultura #audiohistoria #podcast #conferenciasCNC #cultura #culturaportuguesa #imprensa #joaquimvieira #antonioruellaramos](https://www.cnc.pt/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)